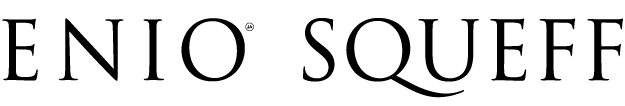Por Enio Squeff (publicado na “Folha de S. Paulo” em 21 de julho de 1978)
O regente inglês, sir Thomas Beecham, afirmou certa vez, que os ingleses não sabiam cantar porque, ao contrário dos italianos, eram completamente ignorantes na arte de comer. Beecham foi um grande músico e tinha certamente suas razões ao dizer isso. Mas não foi feliz. Sei que os ingleses continuam comendo pessimamente o que não impediu a Inglaterra de gerar pelo menos duas cantoras maravilhosas, Marvin Horne e Janet Backer.
Na verdade, feita a distinção de praxe, o maestro britânico não excedeu as regras do bom senso dando tanta importância à mesa na arte de cantar. Talvez para não perder uma frase de efeito, talvez por se recusar à evidência, a verdade é que a sua afirmativa tem uma certa razão de ser. Se o canto não depende do bem comer, liga-se fundamentalmente ao corpo. Ninguém ignora que, neste sentido, a voz é o instrumento mais difícil que existe. O aparelho vocal depende, a rigor, de tudo o que satisfaça o corpo e a plenitude da disposição física é a primeira condição para o bom desempenho de um cantor.
Com ou sem polêmica, porém, essa ordem de reflexões vem a propósito de um concerto realizado a semana passada no Festival de Música e Dança na Secretaria de Cultura do Município. Nele o regente Johannes Hoemberg do “Pro Musica Koeln” – conjunto amador da Colonia, Alemanha – tentou uma espécie de exposição deste período histórico que se iniciou na Idade Média, prolonga-se até os nossos dias e que sintetiza o modo de cantar do Ocidente. Era uma proposta acima de tudo didática. Tratava-se de fazer uma gênese da voz cantada nas igrejas da Europa, iniciando cada forma de missa ou de cultos protestantes com a sua matriz, a expressão correspondente no gregoriano. Fosse apenas didático – já seria uma tentativa louvável.
A medida, porém em que a cada trecho de um hino do gregoriano (que se inicia nos primórdios do cristianismo com a salmodia judaica, prolongando-se até o século XIII) sucedia-se uma forma polifônica determinada – ficava a convicção não apenas de que o conjunto era excelente, mas que conseguia o que se propunha. Mostrar este imenso panorama do canto cristão do seu desenvolvimento, com os polifonistas da Renascença (Obrecht, Palestrina, e Orlando di Lasso), os barrocos (Schuetz e J. S. Bach) os clássicos (Mozart) até os contemporâneos (Stravinski, Ligeti e Pendereki) foi uma excelente idéia. Expôs, em exemplos, que o canto cristão tem uma unidade formal mais ou menos comum – o canto homofônico da igreja e uma base ideológica divergente. Foi uma lição de História. Há um abismo entre a cosmovisão aparentemente uniforme e ilimitadamente rica expresso na melodia do gregoriano (cujo nome se deve ao Papa São Gregório Magno, codificador da música eclesiástica) e a polifonia renascentista. Esta, na medida em que sobrepõe uma voz a outra no contraponto, reafirmando a cada compasso a independência de cada uma, ressalta uma individualidade que o mundo medieval não conhecia e cujas origens estão no mer[can]tilismo que joga o homem na aventura da empresa individual. É um desafio que condiciona à criatividade pessoal, personalizando a possibilidade da tragédia. Petrarca ou Camões, para citar dois exemplos, dão bem a dimensão deste tempo como sonetistas. Palestrina não fez música profana e, ao que sei, não foi sonetista, mas ao cantar a dor da Virgem Maria no “Stabat Mater” aproxima-se muito do sentido desta tragédia vista pessoalmente como a cantava Camões, que dizia de si: “No dia em que nasci morra e pereça / não o queira jamais o tempo dar / Não o torne mais ao mundo e, se tornar / Eclipse nesse passo o sol padeça /” O mesmo pode ser dito em relação à música de Mozart ou dos impressionistas e românticos que fizeram a segunda parte do programa. Menos no texto e mais na música, todos dão essa visão clara e inequívoca do seu mundo. Aqui, porém, num exemplo que se aproxima deste didatismo dado, a exposição histórica tornou-se menos enfática e brilhante. O conjunto cantou menos bem. E isso só se modificaria na interpretação das músicas de Brahms, que encerraram o programa. Como a confirmar a intenção subjacente a todo o concerto, os jovens universitários alemães mostraram que isso de raízes culturais e históricas é muito importante. Cantaram um Brahms descontraído, dando a visão exata mais próxima deste romântico alemão que, ao contrário de seu compatriota Wagner, gostava de Verdi mas como aquele, devia comer chucrute e salsicha. Ou seja, no sentido em que sir Thomas Beecham falava, talvez não fosse um cantor exemplar, e isso, quem sabe, poderia ser extensivo aos alemães – mas não é o caso do grupo de Colonia. Pena que a exposição didática não tenha se estendido mais um pouco. Ninguém perderia nada com isso e talvez, não tivesse que aditar à fórmula inversa do maestro inglês que os alemães cantam bem, logo comem melhor ainda. Enfim, um caso também de cozinha, ainda que a História explique melhor. No Brasil, pro exemplo, não existe muitos cantores. Aqui, o ter que comer já é um problema.