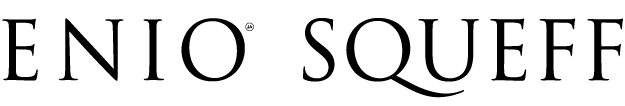Por Enio Squeff, Crítico da “Folha” (publicado na “Folha de S. Paulo” – em 4 de dezembro de 1983)
Não se sabe de nenhum questionário que tenha testado os conhecimentos musicais dos intelectuais brasileiros. Se fosse organizado um, porém, duvido muito que 90% dos escritores, pintores, cientistas e outros (fiquemos na definição gramsciana de intelectuais) soubessem de quem é a “Música Aquática”; ou que distinguissem um Verdi de um J. S. Bach. Por ele saberíamos “quem não é quem” na cultura do Brasil atual (Villa-Lobos, por exemplo, não conta muito). Mas haveria também como se explicar algumas mazelas da ópera em São Paulo.
Não se trata de nenhum juízo sobre a antiga ou atual direção do teatro: os erros do Municipal vêm de há muito. São estruturais. Pelo vezo de se deixar aos empresários a tarefa de programar as temporadas, a ópera paulista tornou-se uma espécie de produto especial numa economia de mercado absolutamente imediatista. Como tal, não se pode culpar alguns pela ignorância de muitos. É até o caso de se fazer um estudo a respeito, acho eu: não duvido de que por trás da ignorância musical inconsciente exista o domínio colonial que nos impinge a sucata dos países que dominam as gravadoras, as editoras, etc. Não é nacionalismo: é uma constatação evidente. Mas não duvido também de que a situação seja reversa; isto é, que no nosso ideal de “obra de arte total” – a nossa gesamtkunstwerk, como diria Wagner, falte a grande música pela relação que parte da inteligência brasileira estabelece entre as casacas e a denominação. É uma bobagem: a convenção ou a forma não faz o conteúdo. Mas se as próprias agências de publicidade que vendem vinho não se deram conta de que devem impor o produto a um país tropical – mudando exatamente o caráter “europeu” da bebida – não sou eu quem vai acabar com as besteiras made in Brazil.
Feitas tais ressalvas, porém, resta a ópera. E a realidade de que mesmo alguns críticos musicais a ignoram como importante. Ouvi de um deles que não ia a concertos (ou a óperas) porque possuía uma boa discoteca. Ora, é impossível saber da totalidade de Wagner ou Mozart fora da cena das óperas que estes compositores fizeram.
Falar de Wagner sem atentar para as suas encenações é o mesmo que discutir poesia francesa ignorando a França. A recíproca é também verdadeira em relação aos “intelectuais”: difícil que o teatro brasileiro continue ignorando a ópera – mas se o teatro do Brasil conseguiu crescer na ignorância da cena típica (e faça-se justiça a um Sábato Magaldi que é dos poucos críticos de teatro que vão à ópera), já agora me parece impossível que a ópera ignore o teatro brasileiro.
É a primeira constatação a ser feita: em música os nossos cantores são deficientes e as nossas orquestras idem. Mas é inconcebível que num país onde se fizeram montagens como “Macunaíma” e “Amadeus”, para apenas citar duas peças conhecidas e de sucesso por suas qualidades, a ópera persista no convencional das encenações, quando não do ridículo dos cenários. Falo pelo que vi este ano no Teatro Municipal; e pelo papel que a “Folha” desempenhou na luta contra a ditadura dos empresários. Ou seja, se não conhecesse alguns dos protagonistas da organização da ópera em São Paulo, não duvidaria de uma espécie de sabotagem deliberada para que tudo voltasse a ser como antes. Seria necessário acrescentar, porém, que Flávio Rangel e Antunes Filho, como diretores ou que Wesley Duke Lee e Marcelo Grassmann como cenaristas seriam alguns dos nomes a serem lembrados para este desafio? Evidentemente não.
Claro, há o aspecto musical: concedo que as coisas não são fáceis. Comenta-se a boca não muito pequena que no Municipal as contratações de certos técnicos, cantores e regentes são sempre feitas tendo em vista as vantagens dos contratadores. Não duvido e seria até tolerável esta espécie de nepotismo se alguns fatos não ficassem evidentes, entre os quais de que é constrangedor ouvir um cantor num papel secundário apresentar-se melhor que o titular. Em suma, é difícil não reconhecer que os cantores brasileiros são poucos e que seu repertório é pequeno; e que a escolha dos nomes das temporadas deve ser feita por uma comissão de músicos; ou que para encenar uma ópera como “O Navio Fantasma””, é necessário importar cantores do exterior, e que só uma política a longo prazo pode preparar um elenco estável que dê conta de uma programação abrangente. Sob este aspecto, aliás, o que menos preocupa são os Corpos Estáveis do Teatro – o coro, a orquestra e o Corpo de Baile. Verdade que este último se tornou uma espécie de corpo estranho dentro do Teatro. Na medida em que foram encenadas óperas que prescindiam da dança, o Corpo de Baile foi fazendo sua própria vida, independentemente do Teatro. Mas tem bons elementos. Mesmo numa encenação desastrada como na “Carmina Burana” alguns bailarinos mostraram indiscutível preparo técnico. Quanto à orquestra e ao coro, sem trocadilhos, dançam conforme a música: desde que tenham regentes competentes, desempenham a contento ou mais que isso. Em outras palavras, o Municipal é um teatro operístico. Ridículo, e dispendioso manter um órgão público com um palco razoavelmente grande, coro, orquestra e corpo de baile estáveis para encenar quatro óperas por ano, como se sua atividade neste campo não devesse ser permanente. Ridículo, igualmente, alegar falta de verbas para não fazer do Teatro o que ele é por sua natureza. Se não é mentira que os intelectuais brasileiros desconhecem a ópera – passa a ser inconcebível que a ópera se ignore ou se desconheça a si mesmo e que não tente o ideal proclamado por Wagner na busca de uma integração de todas as artes. Está certo: talvez superestimemos nossa inteligência; não duvido.
Mas a alternativa é a ousadia, não a mediocridade erigida quase sempre em projeto político. Se não ousarmos agora, o melhor é acompanhar os 90% de intelectuais brasileiros que pensam que a música ocidental começou com Pixinguinha.