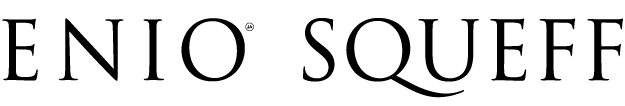Por Enio Squeff (publicado na “Folha de S. Paulo” em 1978)
É impossível não ligar O Banquete, canto do cisne de Mário de Andrade, à crise de identidade que açula as classes dominantes brasileiras nos primeiros anos do século. Se a consciência burguesa é o passo decisivo no processo de auto-conhecimento que o Brasil enceta neste século não há como negar que o modernismo foi, em sua essência, a instauração da consciência burguesa ao nível artístico. “O Banquete” é sintomático. Cumpre a sina de seu autor naquilo que foi sua lucidez e seu grande pecado. De um lado, intui a relação entre o nacionalismo e o modernismo; de outro, assimila a própria contradição da emergência da sociedade de classes, onde a origem do sangue se dilui na constatação de que a detenção dos meios de produção é o que realmente conta.
Em 1943 – ano em que iniciou a publicação intermitente de “O Banquete” na “Folha da Manhã” – Mario de Andrade tinha de “épater” como fora nos anos boêmios de 22 e que, por razões óbvias encontrara o beneplácito de parte da classe dominante. Nacionalismo e futurismo – ingredientes da mesma salada – tinham já redundado nos Estados fortes que todos conheciam. A experiência amarga da ditadura de Vargas não fora apenas uma ressalva no pensamento intelectual brasileiro que Mario tinha tão bem vivenciado. O guante da ditatura e de seu braço direito – o Departamento de Imprensa e Propaganda – pesara grotesco sobre todos, indistintamente, e o próprio escritor – ao ser despejado de sua “cria”, o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo – não se podia dizer imune à feição fascista que assumira a luta pela hegemonia burguesa no Brasil. É a partir daqui que “O Banquete” assume suas reais proporções. A rigor uma amplitude não tão ilimitada assim. Mário de Andrade é ainda um nacionalista acerbo que afirma: “Pois é dentro dessa arte-ação desse primitivo natural o Brasil em face do seu futuro que a música brasileira tem de ser nacional (…). Nacional que digere o folclore mas que o transubstancia porque se trata de música erudita”. Para o observador, meia palavra bastaria. Mas o próprio Mario de Adrade duvida de suas convicções. Começa pela forma de “O Banquete”. A evocação da obra homônima de Platão é significativa. Cinco personagens reúnem-se numa “cidadezinha da Alta Paulista” (Mentira) para discutir a arte brasileira – especialmente a música. Em meio ao “nacionalismo” de um vatapá – e a “universalidade” de uma salada – entrechocam-se as opiniões nos quais estão envolvidos um compositor (Janjão), uma intérprete comprometida com os programas convencionais da indústria cultural (Siomara Ponga), uma milionária judia, protetora das artes (Sara Light), um político, “obviamente fascista” (Félix de Cima) e a encarnação do eterno questionamento – Pastor Fido, um jovem cuja curiosidade permanente parece pairar acima dos compromissos ideológicos. As intenções do escritor são transparentes. O diálogo é não apenas a melhor forma de convencionamento; é também a abertura às dúvidas e ao ceticismo do próprio autor. De fato, são evidentes os aspectos auto-críticos de “O Banquete”, Mario de Andrade parece querer penitenciar-se das teses mais ou menos anarquistas que, na definição de Trotsky “antecipando a ausência do governo no futuro, opõem seus esquemas à política aos partidos e a diversas realidades”. Não é outra a explicação pela presença de um político fascista a discutir arte e do reparo feito à milionária Sara Light que se diz contrária ao presumível Estado Novo, mas que aceita a ideologia do governo tanto que “reconhece nele a possibilidade de melhorar ainda mais seus homens.” Ou seja, o escritor roça os aspectos totalitários do sistema – mas não chega a vislumbrar sua origem. São várias as contradições. Ao pintar a cantora Siomara Ponga como naturalmente fria, Mário de Andrade coteja com maestria a relação entre uma presumível impotência sexual e a auto-castração que o sistema de concertos impõe ao mundo musical. O escritor parece adivinhar que o lugar da música de concerto – a única que não encarna necessariamente o sistema – não tem seu lugar no centro dos debates, mas na marginalidade a que está relegado, não por mera coincidência, o compositor Janjão (autor de um “Scherzo anti-fascista”). Com tudo isso, entretanto, Mario de Andrade insiste na música nacionalista. À alternativa do nacionalismo de Villa-Lobos, Guarnieri e Mignone – aproveitados à larga pelo Estado Novo – o escritor não vislumbra senão a contrafacção reacionária dos acadêmicos. Daí os aspectos confusos de “O Banquete”.
E o que explica a mistura de “Bruncker, Jadassohns (?) e Mahler” definidos pelo escritor como “formidáveis técnicos da música e da estupidez humana.”
Mário de Andrade não chega a suspeitar que por detrás da aparente “estupidez” Mahler seria afinal um dos caminhos que sua angustia busca de uma postura consequente também ao nível político tentou encontrar no bom conformismo nacionalista. Mario de Andrade ainda não sabia – mas é da música de Mahler que proviria a postura crítica que conseguiria desmoralizar a aparência de “entente” universal com que os poderosos do sistema tentariam exibir sua desinteressada proteção às artes. Paradoxalmente, entretanto, “O Banquete” é importante por isso. Ao não desbaratar a problemática da arte da discussão da realidade como um todo, torna-se uma obra fundamental. Mostra – ainda que sem chegar a conclusões irrepreensíveis – que há algo mais do que simples relações de mecenato entre estética e política.