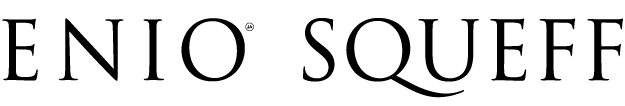Por Enio Squeff (publicado na “Folha de S. Paulo” em 1978, revisto pelo autor em 2020)
O historicismo ocidental – essa visão escatológica que vê a história como um fim para além de si mesma – tem arraigado muitas crenças dogmáticas, e uma delas é a de que a História é justa. Seria a justiça que justifica os vivos. Ela ocorreria mais cedo ou mais tarde em nome do inevitável progresso que, em essência, se definiria como a auto-consciência mecânica do que ocorreu ontem.
A história das artes seria o melhor exemplo dessa justiça acima de qualquer suspeita. Cézanne só conseguiu vender um quadro em vida; após sua morte, entretanto, sua influência foi decisiva. O mesmo em relação à música: J. S. Bach foi redescoberto por Mendelssohn. Ou seja, bem ou mal, o progresso refez a injustiça histórica no reconhecimento póstumo.
De fato, ao nível de uma visão historicista, isso acontece sempre. A História não seria justa no sentido moral; ela seria simplesmente auto-consciente tanto no Pitecantropus que se reconheceria no macaco, como nos românticos que, a despeito da opinião de Beethoven, que via em Bach apenas um profundo conhecedor de harmonia, tiveram de se curvar à genialidade do grande contrapontista. O reconhecimento da posteridade não seria um agradecimento aos relevantes serviços prestados pelos mortos; os grandes serviços prestados seriam também as razões dos vivos. Haveria então motivos para julgar que nossa História não estaria a acobertar injustiças? Aqui qualquer afirmativa positiva seria antes de mais nada uma temeridade. E, no caso específico da música, com o crescimento da indústria muito bem localizada em países que têm interesses específicos, configuraria, no mínimo, um equívoco. Explica-se: a cultura num mundo industrializado é um negócio que supõe um know-how específico. No caso da música, esse know-how não é apenas a orquestra portentosa, transformada nos negócios fabulosos de uma Deutsch Grammophon com a Filarmônica de Berlim, por exemplo; é também esse mundo cultural em que a escala de valores passa rigorosamente pelos que a ideologia cultural elege e por esses parâmetros, também ideológicos, que relegaram um Mahler à condição de compositor menor ou que hoje tratam com uma condescendência inexplicável a produção cultural dos países do Terceiro Mundo.
O círculo vicioso existe. Nosso maior compositor, a despeito de todas as opiniões contrárias, é ainda Villa Lobos, um homem perigosamente ligado aos fascistas e que, ideologicamente, está muito próximo dos motivos que justificam loas à cultura popular para manter as massas sob um domínio estreito. Ou seja, prestou-se em vida, a um papel suspeito; mas produziu o suficiente para que se saiba a que níveis chegou. Mesmo assim, é possível se afirmar que pouco ou nada de Villa Lobos existe na versão que a sua qualidade talvez exigisse.
O caso de Villa Lobos é excepcional. Seu valor e o maciço lobby estatal do Estado Novo em torno de seu nome talvez o penitencie com essa História muito bem montada e na qual, quem sabe, haja um lugar para ele. Mas, e os outros? Refiro-me não apenas ao Terceiro Mundo ou a mais especificamente a essa América Latina com seus Juan Carlos Paz, seus Joaquin Orellana, seus José Ardevol, ou para irmos mais longe, aos compositores do século 18º do Brasil colonial, ou da Venezuela, onde, igualmente, vicejou uma vida musical importante. O que me ocorre é a realidade cultural como um todo: os escritores latino-americanos que só passaram a interessar à Europa depois que Paris decretou seu alvará, ou principalmente os nomes da cultura portuguesa ou brasileira que hoje subjazem numa espécie de reserva de mercado. Que sabem nossos jovens, por exemplo, de dois dos maiores sonetistas portugueses – Bocage ou Camões? E para ficar no Brasil e mais especificamente na música, cito uma conversa que tive certa vez com Cleofe Person de Matos. Essa senhora, uma figura excepcional da moderna música brasileira, empenhou toda a sua vida no estudo da música do padre José Maurício. Para muitos, um esforço injustificável. Não concordo, mas a rigor, talvez não saiba o suficiente para sustentar o contrário. Pois bem, quando lhe perguntei com que músico conhecido europeu ela compararia o padre José Maurício, a musicóloga não titubeou: “Pergolese”. De Giovanni Batista Pergolese (1710-1736) creio que sabemos muito; não talvez o suficiente que sua importância merecesse. Mas e do nosso padre José Maurício? Afora algumas gravações nacionais – péssimas, diga-se de passagem – e uma ou outra gravação estrangeira (existe uma de um País Baixo, se não me engano), não existe absolutamente nada. Ou melhor: há um livro monumental da mesma sra. Cleofe Person de Matos que poucos conhecem. Mas o que existe do padre José Maurício não tem seu sucedâneo em relação a outros compositores. Talvez sejam medíocres – como Bocage nunca foi – talvez sejam excepcionais. Mas e daí? Não sei se nossa História terá respostas. O progresso não é apenas o preço da justiça histórica. É também a sua condição.