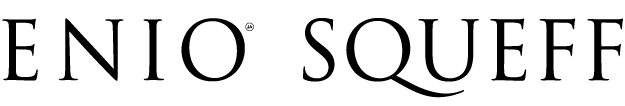Por Enio Squeff (crítica publicada na “Folha de S. Paulo” em 17 de outubro de 1982)
Carlos Sforza, num livro que escreveu sobre Maquiavel, anota que de tudo que o criador do pensamento político moderno assinou – e não foi pouco – o que sobrevive nem sempre parece do mesmo escritor: o autor da peça “Mandrágora” seria diferente do teórico de “O Príncipe”.
A observação é significativa. Há pouco um crítico musical norte-americano escreveu um longo artigo no “New York Times” para comprovar a transitoriedade dos valores estéticos. Observava que com todo o incenso espargido sobre músicos tão desiguais como Richard Strauss, Mahler ou Vivaldi, eles não deixaram de sofrer críticas mais ou menos ideológicas que ora os beneficiaram, ora fizeram-nos desaparecer da maior parte dos programas. A ideologia por vezes fala mais alto, concluía o crítico, não sem antes saudar o crescimento que se observa do compositor soviético Dmitri Shostakovitsh (que não seria tão comunista quanto se supunha…).
É uma tese correta que vale para tudo, mas que, como no caso das “outras” obras de Maquiavel, parece refletir a própria diferença entre as várias artes em diversos períodos. A maior crítica que se faz a Burkhardt, cujos estudos sobre a Renascença italiana são ainda hoje o que de melhor existe no gênero, é a de que descreveu com segurança as relações intrincadas entre as artes plásticas, a poesia e o mundo político renascentista, mas ignorou a música. Burkhardt defende a tese, por exemplo, de que Leonardo da Vinci poderia ter-se consagrado em definitivo como engenheiro militar se os planos de César Borgia e de seu exército tivessem dado certo. O artista, no caso, acabaria dando lugar ao gênio das máquinas de guerra e o submarino ou a asa delta – usada como arma de guerra – teriam sido aplicados séculos antes da sua efetiva instauração. A conclusão é minha: Burkhardt só arrisca a opinião quanto ao potencial do Exército de Borgia se as armas inventadas por Leonardo não tivessem sido abortadas com a morte do comandante. Quanto à música, porém, Burkhardt não parece ter inferido disso que esta outra dimensão de seu gênio fosse importante para conhecer o contexto da época.
Equivocou-se, evidentemente. Hoje se sabe que a música desvela aspectos insuspeitos da psicologia de determinados períodos históricos. Ainda que Jean Jacques Rousseau, como compositor, não tenha sido o romântico que se revela em seus escritos – a música que Mozart e Haydn assinaram (e antes deles Johann Christian Bach) e que coincide com as obras literárias daquele, foram tudo isso e muito mais. Ou seja, não apenas desvelaram um mundo que é o retrato vivo da sociedade da época de Rousseau, atribulada pelos projetos existencialistas imbricados na aventura política do ideal democrático; conseguira este milagre de chegar até o século 20, sendo antes de tudo uma cosmovisão dos fins de 1700.
Por este aspecto, a música teria de ser acoplada à História como documento fundamental – mas não o é. Dos estudos que se conhecem sobre Dom Pedro I, são raros os que mencionam sua condição também de músico, e mais raros ainda os que se referem à música do Primeiro Império. Não há nenhum, porém, que faça alusão à música do Príncipe ou do Padre José Maurício ou mesmo de Marcos Portugal, para tentar uma abordagem sobre os tempos e costumes do Primeiro Império. Em relação ao Brasil isso talvez se compreenda: não há ninguém que julgue a música disciplina importante fora das conversas entre especialistas ou aparentes iniciados. Quase ninguém ouve a música histórica no Brasil; não se pode esperar que alguém se lembre de fazer história com a música. Mas no Exterior isso também quase não existe.
Digo quase, porque alguns tentaram. Em seus estudos sobre Wagner e Mahler, Theodor Wiesegrund Adorno avança todas as fronteiras possíveis. Mas se trata de um filósofo cujo estilo parece manter-se ainda mais complicado nas boas traduções; e Adorno tal qual um Chesterton obscuro – e mais profundo – faz do paradoxo seu cavalo de batalha. Não é um abridor de caminhos no sentido convencional. O caminho, contudo, existe.
Ao se ouvir, por exemplo, os lieder de Hugo Wolf, tem-se o clima exato do mundo que origina um sinfonista como Strauss e Mahler. Mas se tem isso numa dimensão em que entram de forma sistemática os despojos do colonialismo europeu plenamente vitorioso, inclusive, na “assimilação crítica” das escalas exóticas do Oriente. No excelente artido que escreveu há uma semana sobre Debussy, no “Folhetim”, o maestro Julio Medáglia observava que o compositor deixou-se conquistar pela música do Extremo Oriente; pode-se arriscar, sem medo de extrapolações exageradas, que tudo seria diferente se o colonialismo europeu não tivesse chegado até onde foi no século passado.
Na verdade estas “relações perigosas” têm aberturas insuspeitas: se é possível fazer história a partir da música – (e não apenas história da própria, como sempre se quer) – talvez se devesse tentar muito mais. O erótico na ópera de Wagner bem normalmente acoplado aos seus enredos. Mas eu me pergunto se não é o caso de identificar, na vitória dos motivos do amor (ou da morte), as idéias fixas que persistem na libido e que dão invariavelmente naquilo que, sem eufemismos, um censor chamou há dias de “indução ao coito”. E se a partir desta conclusão não se pode, enfim, chegar à morbidez com que a família burguesa do século passado procura manter sua moralidade de fachada, precisamente para justificar a explosão do adultério e quejandos. Wagner foi homem do seu tempo: não há por que não ver – inclusive no ideal da “Gesamtkunswerk” a nostalgia por uma totalidade que a especialização capitalista abortou.
São ilações, como disse. Os contornos do melodismo de Verdi talvez não bastem para traçar uma Itália por fim unificada sob a bandeira e o poncho de um herói tipicamente verdiano, como Garibaldi. Mas Villa-Lobbos, Portinari e, mais claramente, Mário de Andrade intentaram fazer o Brasil compreensível para os brasileiros. Na “Grande Marcha” de Luís Carlos Prestes pelo País com a famosa Coluna, este ideal parece realizar-se “avant la lettre”, numa espécie de “estudo de campo” do mistério brasileiro que antecipa, em muito, o mapa que os artistas da primeira metade do século tentarão desenhar à sua maneira. Digamos, enfim, que arte, vida e história estão indissoluvelmente ligadas e que talvez o mundo tenda mesmo para o “ponto Ômega” a que se refere Teyllard de Chardin. Mas se for assim, a música pode ter alguma coisa a dizer nisso tudo.