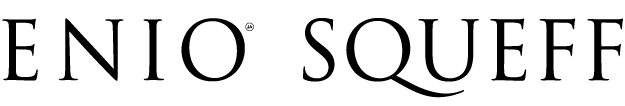Por Jorge Arizio (publicado na “Folha de S. Paulo” em 3 de setembro de 1978)
Não sei se alguma vez em sua história, a ópera no Brasil conheceu algum período de fastígio. Entre as observações muito cônscias de Machado de Assis, que foi crítico musical, e a penúltima récita de “Carmen”, de Bizet, representada há duas semanas no Teatro Municipal, a ópera brasileira parece ter conhecido incidentes que, não raras vezes limitam as tragédias interpretadas nos palcos aos incidentes que acontecem nele, a despeito dos libretos e encenadores. Ou seja, é muito possível que a história das representações brasileiras não seja tão rica em eventos artísticos, mas profícua em acidentes nem sempre históricos.
Nada contra a ópera, na verdade. As desafinações assustadoras que surpreendem a voz de um cantor constituem acidentes por vezes menos catastróficos que aqueles que acometem os figurantes. Na segunda récita da ópera “Carmen”, por exemplo, ocorreu um fato que por pouco não compromete definitivamente a atuação de Don José – amante da sta. Carmen do título: um dos figurantes, sem que ninguém atinasse porque, desmaiou. Seria certamente um apreciador privilegiado; esta, pelo menos, foi a explicação de algumas pessoas que foram socorrê-lo nos bastidores. Eles não tiveram dúvidas em creditar à emoção do figurante sua queda estrepitosa em pleno espetáculo. Enfim, um acidente e, quando se trata de pessoas, a emoção explica muita coisa. Mas e quando se trata de animais? Animais não são personagens muito comuns em óperas, sabe-se. Não há notícia de que alguém tenha se preocupado em escrever algo como a “Vaca de Sevilha”, ou que o verdadeiro barbeiro tenha qualquer coisa com o transmissor da “Doença de Chagas”. A “Madame Butterfly” de Puccini é intraduzível. A ninguém é lícito verter esta cena lírica por “Madame Borboleta”. Ou seja, afora o “Dueto para dois gatos” escrito por Rossini, não consta que alguém tenha se preocupado em escrever árias para mugidos e barítonos, ou que os miados que acompanharam certa vez o agudo de uma soprano no Municipal tivessem a ver algo com o que Verdi escrevera efetivamente.
Isto em outros países, é claro; porque no Brasil a participação de animais em certas cenas líricas tem lugar garantido na história da ópera e no sentido exato em que essa história são também os acidentes e não apenas as grandes atuações. Neste sentido, o pioneirismo dos gaúchos é inegável. Aconteceu há anos em Porto Alegre. Apresentava-se “Ainda” de Verdi e o encenador, a fim de dar maior grandiosidade à cena em que Radamés retorna “vincitore” de uma guerra, resolveu incluir na cena da “grande Marcha” (aquela que todo o mundo conhece), um selecionado elenco de animais de circo: um tigre, dois leões e um enorme elefante. Dos leões e do tigre nada consta; estavam enjaulados e foram irrepreensíveis; mas o elefante teve uma péssima atuação. No momento em que as bailarinas dançavam para o Faraó, ao invés de recolher-se a sua enorme insignificância, o elefante resolveu atuar também. Primeiro, sem que ninguém soubesse porque, usou várias vezes sua tromba para levantar o vestido de algumas bailarinas egípcias; a seguir, fez cocô no palco – um grande exagerado cocô de elefante. Não foi uma atuação elogiável e a crítica foi contra – fato que nem de longe desestimulou o “regisseur”: ele adorava animais e na ópera seguinte “Il Trovatore”, também de Verdi, resolveu incluir um cavalo. Não pedia nada demais: na verdade, o papel do cavalo resumia-se ao que fazem todos os cavalos: conduzir o tenor que interpretava o papel título. Ocorre que o tenor nunca montou em sua vida e negou-se a aceitar o quadrúpede como figurante. O “regisseur” insistiu, e como provasse que o bichinho era manso e que todo o segredo da equitação resumia-se em montar colocando o pé esquerdo no estribo – acabou aceitando. E tudo correu normalmente até a entrada do cavalo em cena. Era um animal velho, branco e magro, cuja bonomia ficou clara logo nos primeiros instantes: não queria enfrentar o palco de modo algum. No começo o escudeiro que o conduzia foi paciente, tentou empurrá-lo. Por fim, passou a esmurrá-lo, tudo com tanta convicção que dali a instantes o cavalo estava à frente do Trovador. Já o público começara a inquietar-se e tinha motivos. Não passou despercebido a briga entre o escudeiro e o animal. No mais, porém, os gaúchos e o “regisseur” tinham sido pressurosos em alertar o cantor d que cavalo monta-se com o pé esquerdo – “Pé esquerdo no estribo, não se esqueça” – mas não tinham avisado o escudeiro que ele deveria colocar a montaria na posição adequada; ou seja, para que nada saísse errado, a cabeça do cavalo deveria estar à esquerda do cavaleiro. Mas não estava e antes que alguém pudesse impedir, o Trovador aboletava-se no lombo do cavalo, de costas. Foi apenas um instante; logo o cavaleiro improvisado descia às pressas e tentava tudo de novo. Quem sabe se enganara? Tentaria o outro pé. O escudeiro, porém, já assustado com a encenação do que se afigurava uma autêntica catástrofe, compreendeu seu erro e resolveu mudar a posição do cavalo. Não é preciso dizer que o Trovador acabou de costas, novamente. Em outras palavras: saiu de costas do palco – mas entrou direto, de frente, para a história da ópera no Brasil.
Justiça seja feita, entretanto: a história da ópera no nosso País não se resume a acidentes, muito menos a encenadores que se preocupam em inovar com invenções absolutamente inéditas. Há a história daquele “regisseur” paulista que teve o cuidado de não colocar cavalos nem elefantes em cena – mas que igualmente pagou por sua distração. Deixou que um incrível instrumento, uma cordinha de um contra-regra, ficasse colocado ao alcance da mão de um dos cantores. Era uma cena de interior – mais precisamente a alcova da “Traviata”, e lá pelas tantas, em meio a um agudo, emocionado, o tenor desceu a mão sobre a cordinha, inadvertidamente. Não foi tão trágico quanto a história do cavalo, nem teve o efeito do agudo do gato – mas atrapalhou a cena o suficiente para inscrever o Municipal na história da ópera no Brasil. A incrível cordinha, colocada ao abrigo do público, atrás de uma coluna, servia para operar mudanças meteorológicas nas várias cenas. Neste dia, como se não bastasse a infelicidade da “Traviata”, que morre tuberculosa, nevou abundantemente sobre sua cama, sobre o tenor e evidentemente sobre o entusiasmo do público.