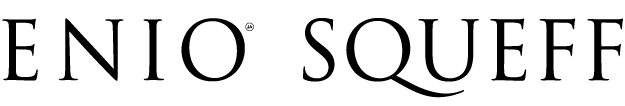Por Enio Squeff (crítica publicada na “Folha de S. Paulo” em 06 de julho de 1978)
Conta-se que Johannes Brahms, já ao fim da vida, tinha um costume estranho. Como o julgassem irritadiço em demasia passou a cultivar a imagem, despedindo-se de algumas reuniões particularmente formais, dizendo mais ou menos o seguinte: “Perdoem-me se não fui indelicado com todo o mundo; não era essa a minha intenção”.
A título precário, a introdução poderia valer para qualquer crítico: a observância do estrito vêzo de criticar, vale dizer, de ser inoportuno e indelicado, pode não ser uma imagem a cultivar, mas é, certamente, o único caminho da honestidade.
Para o caso da música em São Paulo, isso pode valer como uma declaração de guerra. Afinal, se é forçoso reconhecer que o que temos é o que temos – não cabe, por exemplo, inventar e afirmar o que não existe. E a realidade nua e crua é essa: São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, não tem uma orquestra sinfônica que se aproxime do razoavelmente bom. A ilustração, como sempre, é o infatigável trabalho do maestro Eleazar de Carvalho, e, mais precisamente, a série de concertos em que está sendo comemorado o sesquicentenário da morte do compositor Franz Schubert. A Sinfônica Estadual, embora esteja bem melhor do que no ano passado, ainda padece dos altos e baixos de um conjunto desequilibrado. É uma constatação que prescinde de um julgamento mais crítico. Enquanto um trabalho musical se fixa entre desempenhos razoáveis e atuações onde existem problemas gritantes de afinação – o próprio contraste passa a ser significativo. E não vale a alegação de que o público gosta. Tentemos um exemplo.
Ainda na semana passada, São Paulo recebeu a visita do pianista Rudolf Fikursni – virtuose cantado em prosa verso pelo decano dos críticos norte-americanos A. Schonberg. O intérprete tinha de tocar o concerto número um de Brahms – peça difícil, mas imprescindível no repertório convencional de qualquer pianista convencional. A crer nos aplausos foi um sucesso. Mas não pareceu assim a todo o mundo. Contradição? É possível. Pois, entre o juízo crítico que viu no sr. Fikursni um pianista flácido, atacando os trinados de Brahms como se o estivesse fazendo com um concerto de Mozart (algo como jogar futebol com sapatilhas de balé) – e opinião do público que o ovacionou a pé – vai uma grande distância.
Melhor para o Sr. Fikursni; pior para o crítico. A questão, porém, não é bem essa. É possível que, hipoteticamente, neste caso, o crítico tivesse razão: mas, então, toda uma série de considerações sobre o mesmo tema deveriam ser reformuladas. Dias antes, a propósito, a orquestra estivera num nível acima da média; foi durante a execução da missa número 5, em lá bemol Maior D-678, de Schubert. Um surpreendente coral bem afinado com uma orquestra que se comportou à altura, tiveram esse dom de realizar um concerto honesto. Neste caso, o milagre parece ter se operado. A orquestra superou suas possíveis deficiências e a execução esteve acima do razoável esperado. O que, contudo, não levou o público a aplaudi-la com maior ênfase do que ao medíocre Fikursni. Ou seja, nem sempre a “vox populi”, é a “vox Dei”. E é aqui que vale a observação de Brahms.
A formalidade de nossos músicos, empertigados em suas casacas (uma culpa que, por sinal, não lhes cabe), nem sempre corresponde às exigências da grande música. A formalidade se sobrepõe ao objetivo final que é a boa execução. Explica-se (sem qualquer elitismo) que o público goste. Por várias razões este público perdeu o saudável costume de vaiar. Sente-se na obrigação de aplaudir – preferivelmente de pé.
A antipatia, portanto, tem seus aspectos positivos. Brahms certamente queria dizer muito quando pedia desculpas por não ter sido suficientemente explícito ao não ser mais extensivo em suas indelicadezas. Faço minhas as palavras dele.